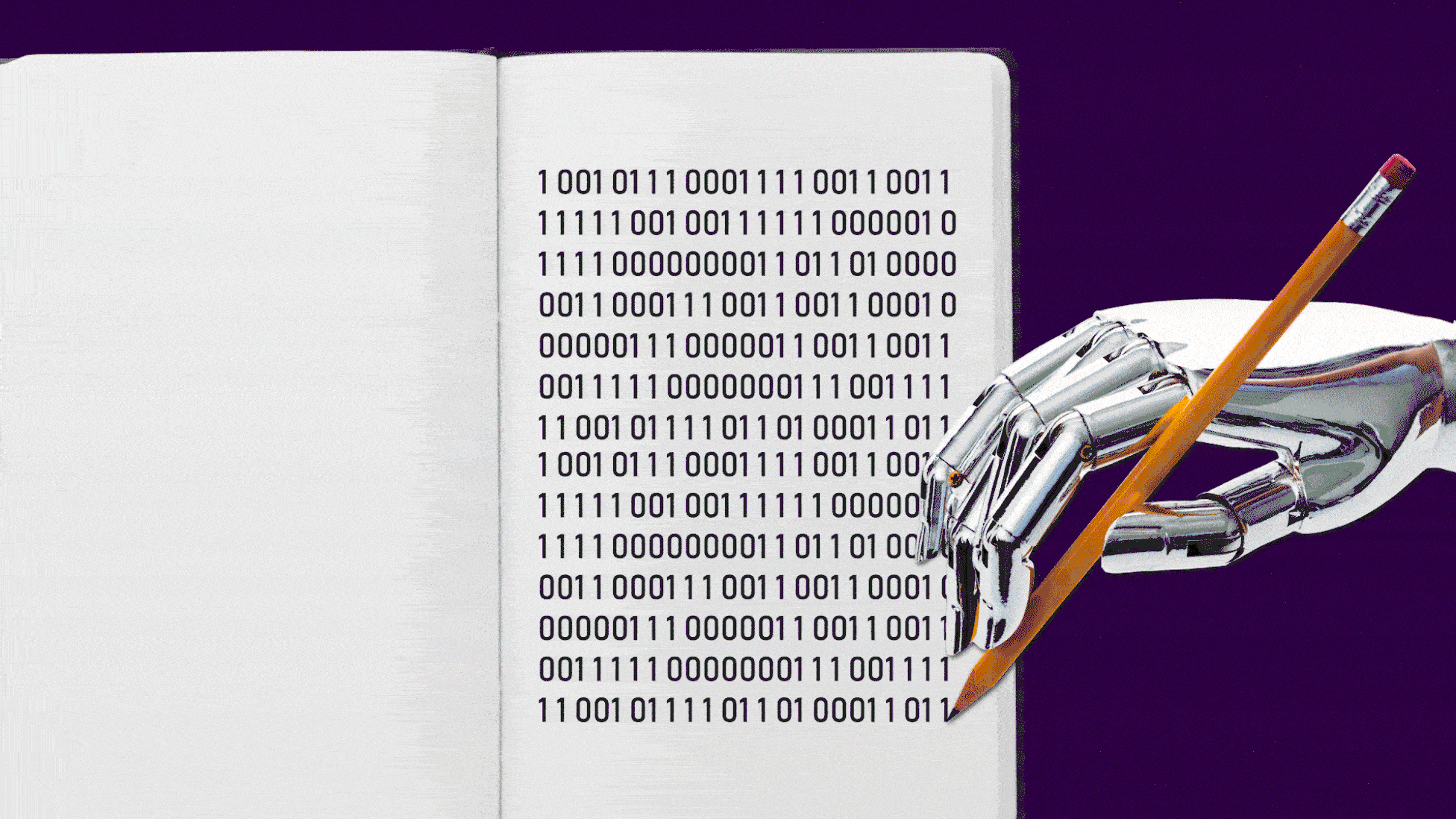A linguagem molda o pensamento? Da filosofia à neurociência
por Tim Seyrek
Assim como nenhuma folha é completamente idêntica a outra, também o conceito de «folha» é formado pela eliminação arbitrária dessas diferenças individuais [...] e agora desperta a noção de que existe na natureza, além das folhas, algo que seria «a folha» — talvez uma forma original segundo a qual todas as folhas seriam tecidas, desenhadas, medidas, coloridas, enroladas, pintadas [...].» (Nietzsche, 1873, p. 880)
Os nossos pensamentos, portanto, não são livres (...) porque, como afirma Wittgenstein, a própria linguagem é o veículo do pensamento, o espelho da realidade. É tanto a ferramenta quanto o veículo do nosso pensamento. Isso significa que tudo o que ocorre nas nossas mentes, cada pensamento, cada insight, acontece em palavras e frases e, portanto, é limitado pela linguagem que usamos.
Nietzsche já havia notado a discrepância entre a linguagem e a realidade, perguntando: «As designações e as coisas coincidem? A linguagem é a expressão adequada de todas as realidades?» A sua resposta foi, não.
Nietzsche já havia compreendido a ideia de que apenas criamos imagens dos factos, mas nunca podemos capturar os factos em si nas construções mentais. Argumentou que, quando inventamos uma designação uniformemente válida e vinculativa para as coisas, a «legislação da linguagem» também fornece as primeiras leis da verdade. Este processo é falho desde o início, porque, como afirma Nietzsche, «todo conceito surge da equação de coisas desiguais»
Nietzsche conclui que a existência de tantas línguas prova que as palavras nunca se preocupam com a verdade ou com a expressão adequada. O que é, então, a verdade? «Uma multidão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. [...] as verdades são ilusões que esquecemos que são ilusões».
A solução de Nietzsche? Não devemos deixar-nos guiar pelo intelecto que pensa logicamente, pela estrutura de conceitos, mas apenas pela nossa intuição. E essa intuição, no seu âmago essencial, nada mais é do que a vontade instintiva de viver ou também a vontade de poder. Temos de admitir isso a nós mesmos. Mas estou a divagar.
O próprio Wittgenstein questionou posteriormente a sua postura rígida. Na sua obra posterior, introduziu o conceito de «jogos de linguagem», reconhecendo que, no uso quotidiano, a linguagem é empregada de forma muito mais ampla do que apenas para descrever factos.
O próprio Wittgenstein questionou posteriormente a sua postura rígida. Na sua obra posterior, introduziu o conceito de «jogos de linguagem», reconhecendo que, no uso quotidiano, a linguagem é empregada de forma muito mais ampla do que apenas para descrever factos.
Percebeu que o significado das palavras é determinado pelos contextos específicos em que são utilizadas, nas conversas quotidianas entre crianças, trabalhadores, teólogos e cientistas. Cada um desses «jogos» segue as suas próprias regras, e cada pessoa participa de uma infinidade deles, moldando profundamente a sua percepção e modo de vida.
Isto significa que, embora a linguagem seja o veículo do pensamento, esse veículo é modulado por um contexto mais amplo. Se quisermos compreender a linguagem, temos de compreender como ela é utilizada em contextos sociais específicos.
Da filosofia à ciência: a hipótese de Sapir-Whorf
Agora, com base nas ideias de Wittgenstein, uma das ideias fundamentais que liga a linguagem e a cognição é a hipótese de Sapir-Whorf.
Whorf argumentou que o nosso uso habitual da linguagem molda a forma como percebemos e interpretamos a realidade. A hipótese existe em duas formas: uma versão fraca (relatividade linguística) e uma versão forte (determinismo linguístico).
A versão forte afirma que as diferenças entre as línguas levam a diferenças igualmente profundas no pensamento. Nesta visão, se uma língua não possui uma palavra ou forma gramatical específica, os seus falantes não podem compreender totalmente o conceito correspondente.
A versão forte afirma que as diferenças entre as línguas levam a diferenças igualmente profundas no pensamento. Nesta visão, se uma língua não possui uma palavra ou forma gramatical específica, os seus falantes não podem compreender totalmente o conceito correspondente.
A gramática, a estrutura e o vocabulário determinam, assim, completamente as categorias cognitivas, resultando em visões de mundo que diferem radicalmente entre as línguas. Isto está amplamente alinhado com os primeiros trabalhos de Wittgenstein.
A versão fraca, por outro lado, propõe uma ligação mais subtil. Defende que a linguagem influencia o pensamento sem o determinar inteiramente. Por exemplo, falantes de diferentes línguas podem prestar atenção a diferentes aspectos da realidade, dependendo das estruturas e convenções da sua língua.
A evidência empírica a favor da relatividade linguística
Pesquisas realmente demonstraram que diferentes idiomas impõem diferentes estruturas gramaticais e sintáticas, o que pode influenciar o que os falantes percebem e como conceituam o mundo (Slobin, 1987). Por exemplo, em alemão, a palavra para ponte (die Brücke) é gramaticalmente feminina, enquanto em espanhol é masculina (el puente).
Pesquisas realmente demonstraram que diferentes idiomas impõem diferentes estruturas gramaticais e sintáticas, o que pode influenciar o que os falantes percebem e como conceituam o mundo (Slobin, 1987). Por exemplo, em alemão, a palavra para ponte (die Brücke) é gramaticalmente feminina, enquanto em espanhol é masculina (el puente).
Essas distinções podem afetar subtilmente a representação mental dos objectos, estendendo-se até mesmo a conceptualizações mais amplas, embora isso não deva ser exagerado. «De muitas maneiras, a língua que as pessoas falam é um guia para a língua em que pensam» (Hunt & Agnoli, 1991). É importante ressaltar que essas diferenças podem ser em grande parte implícitas.
Em experiências, os participantes tiveram um desempenho mais preciso ao raciocinar sobre o tempo numa orientação espacial consistente com a sua língua nativa. Isso demonstra que as «gaiolas de pensamento» semânticas podem moldar padrões cognitivos.
Notavelmente, quando os falantes aprendem uma nova língua, essas diferenças diminuem, sugerindo que a influência da língua no pensamento é flexível, e não rígida. Isso significa que a língua pode realmente influenciar os nossos processos de pensamento, mas, ao aprender uma língua diferente, podemos alterar esse sistema. Essa flexibilidade significa que a forma mais fraca da teoria da relatividade linguística de Whorf definitivamente tem mérito.
Enquanto o inglês usa a palavra única «azul» para muitos tons, o russo exige que os falantes distingam entre azul claro (goluboy) e azul escuro (siniy). Esta prática linguística constante aguça a sua percepção. Estudos mostram que os falantes de russo são significativamente mais rápidos a distinguir entre tons de azul claro e escuro. Esta diferença cognitiva também se reflete na actividade cerebral. Ao ver cores que mudam de azul claro para azul escuro, o cérebro dos falantes de russo reage como se tivesse ocorrido uma mudança categórica, enquanto o cérebro dos falantes de inglês, que não têm essa fronteira linguística, não registra a mesma “surpresa” (Winawer et al. 2007; Boroditsky, 2018).
Os limites da gaiola
No entanto, a linguagem não é o único determinante da cognição.
No que diz respeito às funções cognitivas superiores, pesquisas mostram que a linguagem nem sempre é o factor limitante do pensamento.
No entanto, a linguagem não é o único determinante da cognição.
No que diz respeito às funções cognitivas superiores, pesquisas mostram que a linguagem nem sempre é o factor limitante do pensamento.
Trabalhos recentes argumentam que a linguagem funciona principalmente como uma ferramenta de comunicação e, embora seja crucial como meio de aprendizagem e memória, não é indispensável para o raciocínio conceptual ou matemático
Fedorenko et al. (2003) sugerem que as redes neurais que suportam funções como o raciocínio matemático são distintas das redes linguísticas e que crianças com déficits linguísticos, como afasia, não apresentam necessariamente deficiências substanciais em tarefas de pensamento não linguístico. A linguagem, portanto, pode ser vista como uma estrutura de suporte, um veículo para organizar, transmitir e reter conhecimento, em vez de ser o único determinante da cognição!
Essa compreensão da linguagem como um guia cognitivo, em vez de uma restrição absoluta, leva-nos a uma fascinante experiência natural: a mente bilingue. E sim, vamos divagar um pouco aqui, intencionalmente (porque é interessante).
A razão pela qual a mente bilingue é o assunto ideal reside na extensão directa da premissa filosófica de que uma única língua cria um único «mundo» ou «gaiola de pensamentos» através da qual pensamos. Como aprendemos agora, a linguagem guia os nossos pensamentos e, consequentemente, também o nosso comportamento.
Isto levanta imediatamente uma questão crítica para aqueles que falam duas línguas: dois mundos distintos operam dentro de uma pessoa? Um indivíduo bilingue tem duas «gaiolas» separadas ou elas fundem-se numa única estrutura mais complexa?
Neste artigo, definimos como bilingue qualquer pessoa que utilize regularmente uma língua nativa (L1) e uma segunda língua (L2), independentemente da idade em que as adquiriu. Esta definição é significativa porque se aplica, na verdade, à maioria da população global, uma vez que há mais pessoas bilingues do que monolingues, tornando esta investigação relevante para a experiência linguística humana mais comum.
Isso deixa-nos com duas questões profundas, que responderei neste artigo.
* Estrutura: L1 e L2 são representadas em áreas neurais distintas, simbolizando dois padrões diferentes de pensamento, ou elas operam dentro de uma rede compartilhada e sobreposta?
Isso deixa-nos com duas questões profundas, que responderei neste artigo.
* Estrutura: L1 e L2 são representadas em áreas neurais distintas, simbolizando dois padrões diferentes de pensamento, ou elas operam dentro de uma rede compartilhada e sobreposta?
* Função: Quando uma pessoa bilingue alterna entre idiomas, ela também alterna sua personalidade ou estado emocional, como se estivesse entrando em um “mundo” diferente, assim como sugere a teoria de Wittgenstein?
(mas não hoje 🙂 - quem quiser ler o artigo completo (ainda vai a meio) é aqui: does-language-shape-thought)