Terceira sessão
ROBERT BOYERS: Gostaria de me debruçar sobre algo que citámos de passagem e que é discutido em vários ensaios incluídos nas leituras da nossa conferência. É frequente lermos que o nojo nos domina mais do que qualquer outro sentimento, que é fundamental para a nossa definição do eu. Há quem defenda que se trata de um dom instintivo natural, que há muitas coisas que provocam repugnância em qualquer um de nós: odores desagradáveis, hábitos vis que implicam crueldade para com animais ou crianças, demonstrações flagrantes de falsidade ou abuso.
Outros argumentam que, embora a repugnância possa ocasionalmente parecer um sentimento primitivo, a repugnância que nos torna plenamente humanos é desenvolvida como parte do processo civilizatório, aquilo de que Barbara Black falava há pouco e, portanto, implica uma capacidade, uma vontade de fazer discriminações entre o que deve ou não deve parecer repugnante. Neste sentido, aprendo a pensar nisto ou naquilo como sendo, de facto, nojento e aprendo também a reagir em conformidade.
É certo que o recuo ou a aversão que associamos ao nojo é forçosamente visceral, tem aquilo a que se pode chamar uma componente química ou física, mas a ideia de que o nojo também pertence ao processo civilizacional e não está inteiramente divorciado da capacidade de fazer distinções é convincente, desde que aceitemos que o que é aprendido também pode resultar ou tornar-se um poderoso recuo sensorial.
Assim, não só compreendo porque é que o discurso e o comportamento de Donald J. Trump merecem ser considerados repugnantes, como sinto essa repugnância no momento em que ele abre a boca para falar. Aprendemos, pensamos, avaliamos e ficamos revoltados.
A ligação entre o gosto e o nojo é talvez captada na ideia de Kant de que a nossa capacidade estética é puramente “negativa na sua essência” - isto é uma citação - e é principalmente marcada pela nossa convicção de que certas coisas devem ser rejeitadas ou desprezadas. Essas coisas que evitaríamos incluem não só o grosseiro ou o feio, mas também o moralmente repreensível. O nojo seria então não só uma sensação ou formação de reação, mas uma componente central da faculdade a que chamamos gosto. Alguns de nós estariam naturalmente mais inclinados do que outros a exercer essa faculdade e nalgumas ocasiões, a sentir repugnância.
Perguntamos se algo é, de facto, objetivamente repugnante, reconhecendo que a palavra “objectivamente” é muitas vezes completamente dúbia ou enganadora. Afinal, a mistura de lacticínios e carne parecia verdadeira e indiscutivelmente nojenta aos meus avós judeus ortodoxos, embora não o pareça a mim ou aos meus filhos.
Lembro-me de um momento, numa outra conferência do Salmagundi, há alguns anos, em que o filósofo Peter Singer, autor de muitos livros, incluindo um intitulado Libertação Animal, se colocou numa fila de comida atrás de outro escritor e lhe perguntou como é que ele conseguia suportar colocar no seu prato e depois comer o guisado de carne que nos foi servido ao almoço, pois Singer tinha a sensação de que havia algo de objectivamente repugnante em devorar um prato de carne. As palavras “a cada um o que é seu”, proferidas pelo escritor com o guisado de carne no prato, não foram de modo algum persuasivas para Peter Singer.
Nem, suponho, essas palavras teriam parecido persuasivas para o romancista J.M. Coetzee, sobre o qual Singer co-editou um livro que prestou especial atenção aos escritos de Coetzee sobre a vida dos animais e a sua suscetibilidade à crueldade e abuso humanos. Mas não é sobre os animais que quero falar agora, nem sequer sobre os escritos de Coetzee sobre a obscenidade ou a representação da tortura.
Em vez disso, quero analisar outra coisa no grande livro de Coetzee, Elizabeth Costello, ao qual já nos referimos. Fui inspirado a seguir, brevemente, garanto-vos, nesta direção por uma aluna inscrita num dos meus cursos que estudou o romance de Coetzee comigo, viu o anúncio da nossa conferência de gosto e bateu à porta do meu gabinete.
Queria falar comigo não sobre as objecções de Costello a representações de tortura, mas sobre um capítulo em que Elizabeth visita um homem velho e moribundo chamado Sr. Philips, agora confinado a uma cama de hospital, claramente em mau estado.
A minha aluna apercebeu-se de que não tínhamos abordado suficientemente as questões de gosto nos nossos debates na sala de aula e interrogou-se porque não. Nem sequer, disse ela, tínhamos pensado que talvez o comportamento de Elizabeth Costello nesse capítulo fosse em si mesmo - ela usou a palavra - obsceno e, por isso, não só desagradável, mas censurável. A minha aluna referia-se a um encontro em que o Sr. Philips, mal conseguindo falar, mas lembrando-se de que Elizabeth uma vez lhe tinha permitido pintar o seu retrato, rabisca num bloco de notas: “Quem me dera poder pintá-la nua”, o que a leva a pensar: “Mas que raio?”
“Desapertei a capa e encolhi os ombros, tirei o sutiã, pendurei-o nas costas da cadeira e disse: 'Que tal, Aiden?'” Ela também pensa: “Conseguia sentir todo o peso do olhar dele em mim, nos meus seios, e, francamente, era bom. Não eram os seios de uma mulher jovem, mas era bom, no entanto, no lugar de definhar e morrer, uma bênção”.
Não é de estranhar que o Sr. Philips tenha então, como ela relata, escrito “obrigado” no seu bloco de notas, e que, mais à frente no encontro, Elizabeth se interrogue, mais uma vez na sua linguagem inventada por Coetzee, sobre o elemento de ostentação. A mulher potente a provocar o homem em declínio, a provocação da pila, diz ela. Os meus alunos concordaram, quando analisámos a passagem na aula, que a vanglória era desagradável, se não completamente obscena e que a provocação com a pila não era completamente censurável, dada a vontade de Elizabeth Costello de ter ela própria esse pensamento perturbador.
“Desapertei a capa e encolhi os ombros, tirei o sutiã, pendurei-o nas costas da cadeira e disse: 'Que tal, Aiden?'” Ela também pensa: “Conseguia sentir todo o peso do olhar dele em mim, nos meus seios, e, francamente, era bom. Não eram os seios de uma mulher jovem, mas era bom, no entanto, no lugar de definhar e morrer, uma bênção”.
Não é de estranhar que o Sr. Philips tenha então, como ela relata, escrito “obrigado” no seu bloco de notas, e que, mais à frente no encontro, Elizabeth se interrogue, mais uma vez na sua linguagem inventada por Coetzee, sobre o elemento de ostentação. A mulher potente a provocar o homem em declínio, a provocação da pila, diz ela. Os meus alunos concordaram, quando analisámos a passagem na aula, que a vanglória era desagradável, se não completamente obscena e que a provocação com a pila não era completamente censurável, dada a vontade de Elizabeth Costello de ter ela própria esse pensamento perturbador.
Ou talvez tenhamos sido persuadidos por Elizabeth quando ela se apercebeu de que aprendeu a pose que fez, diz ela, “com os gregos”? Reflectindo que, na verdade, “enquanto estava ali sentada, não era eu própria, que através de mim se manifestava uma deusa, Afrodite ou Hera, ou talvez até Ártemis”. Ou será que fomos levados a sentir que todo o episódio, embora não fosse um exemplo de bom gosto convencionalmente acreditado, era pelo menos “de bom gosto” no sentido de ser autenticamente desafiante, sério?
No meu gabinete, a aluna que tinha vindo trabalhar as suas dúvidas sugeriu-nos gentilmente que passássemos à última etapa deste encontro entre o Sr. Philips e Elizabeth, que tinha concluído que, ao descobrir os seus seios, estava a realizar um acto de humanidade como o que por vezes realizamos a partir do transbordamento dos nossos corações humanos. Parece-me adorável, e pareceu-me adorável aos meus alunos, essa formulação, embora o transbordamento leve Elizabeth a visitar novamente o Sr. Philips, mais do que uma vez, depois de ele ter sido submetido a tratamentos de radiação, e esteja muito desanimado, como ela observa, apenas um velho saco de ossos, à espera de ser levado embora. Essa linguagem não é minha. Isso é do romance. Dá para perceber.
Sobre tudo isto, Elizabeth tinha escrito à sua irmã Blanche, uma freira, resistindo à tentação de revelar ou confessar a fase final da transação, incluindo o momento em que decide “deixar cair a mão”, estou a citar, “casualmente sobre o colchão e começa a acariciar muito suavemente o local onde o pénis, se o pénis estivesse vivo e acordado, deveria estar, e depois solta o cordão do pijama de Mr. Philips, abre a parte da frente e dá um beijo na coisinha totalmente flácida, leva-a à boca e murmura-a até que ela se agite fracamente com vida.” “Nem”, continua ela, ”o cheiro também é agradável.”
E depois: “O que é que os gregos teriam feito deste espetáculo? Não Eros, certamente. Demasiado grotesco para isso. Seria preciso esperar”, pergunta, ”que os cristãos viessem com a palavra certa, caritas? Porque isso, conclui ela no final, é o que está convencida que é. Ela sabe-o, com o coração a transbordar”. Bom, suponho, para ela, e talvez também convincente para mim, na medida do possível. “Embora não seja fácil saber”, como a própria Elizabeth reflecte, ”o que fazer de episódios como este. Serão apenas”, pergunta ela, ”buracos no coração em que se pisa e cai e depois continua a cair?” Termino com esta citação porque, à sua maneira, ela se relaciona, ao que me parece, com os dilemas que nos preocupam em relação ao gosto, ao julgamento e à disposição.
Na nossa conversa no escritório, a minha aluna propôs-me, de forma muito simpática, que talvez a caritas, ou caridade, fosse uma forma demasiado fácil de dispensar as nossas reservas quando confrontados com aquilo a que ela chamou o ataque de Elizabeth ao indefeso Sr. Philips. É essa a linguagem da minha aluna. E não seria legítimo, pergunta ela, dizer que, ao ir longe demais com este episódio, o próprio Coetzee - para recorrer a um termo que o romancista Coetzee empregou na sua crítica ao escritor Paul West noutra passagem do mesmo romance - excedeu a sua comissão?
Não terá sido isso uma violação, não apenas de uma ideia convencional de bom gosto, mas de gosto? Gostaria de me deter um pouco, embora não o faça, nestas palavras: “excedeu a sua missão”. Mas penso que, de momento, ficarei por aqui, e espero que encontrem aqui algo com que se possam envolver no domínio do gosto: exceder a sua comissão, até que ponto a representação de um certo tipo de episódio que pode, de facto, evocar repugnância, pode, no entanto, ser tudo menos censurável.
IAN BURUMA: Percorreu um longo caminho desde Brooklyn.
ROBERT BOYERS: Não muito longe, espero.
JAMES MILLER: Quero voltar à cena da instrução. Como é que se sentiu ao ter esta conversa numa sala de aula, com aquele material? Porque estávamos a falar, mesmo antes do intervalo, sobre o que devíamos ensinar e como devíamos ensinar.
ROBERT BOYERS: O que é que eu sinto? Em primeiro lugar, já lecciono este livro há cerca de 15 anos, pelo que tenho uma experiência considerável na matéria. Posso dizer honestamente que, para usar um termo muito utilizado atualmente, sempre me senti à vontade para dar este excelente livro aos alunos e falar sobre ele com eles. Tal como faço noutros cursos em que ensino A Desgraça, de Coetzee, ou À Espera dos Bárbaros, livros que evocam muito mais o desgosto.
É claro que uma das coisas que se espera modelar para os alunos é a vontade de ir a sítios que eles possam considerar proibidos e descobrir que é possível, de facto, ter uma discussão séria como adultos na sala de aula sobre este tipo de material. Senti o mesmo tipo de desafio e entusiasmo, há décadas, quando ensinei Crime e Castigo pela primeira vez.
Não terá sido isso uma violação, não apenas de uma ideia convencional de bom gosto, mas de gosto? Gostaria de me deter um pouco, embora não o faça, nestas palavras: “excedeu a sua missão”. Mas penso que, de momento, ficarei por aqui, e espero que encontrem aqui algo com que se possam envolver no domínio do gosto: exceder a sua comissão, até que ponto a representação de um certo tipo de episódio que pode, de facto, evocar repugnância, pode, no entanto, ser tudo menos censurável.
IAN BURUMA: Percorreu um longo caminho desde Brooklyn.
ROBERT BOYERS: Não muito longe, espero.
JAMES MILLER: Quero voltar à cena da instrução. Como é que se sentiu ao ter esta conversa numa sala de aula, com aquele material? Porque estávamos a falar, mesmo antes do intervalo, sobre o que devíamos ensinar e como devíamos ensinar.
ROBERT BOYERS: O que é que eu sinto? Em primeiro lugar, já lecciono este livro há cerca de 15 anos, pelo que tenho uma experiência considerável na matéria. Posso dizer honestamente que, para usar um termo muito utilizado atualmente, sempre me senti à vontade para dar este excelente livro aos alunos e falar sobre ele com eles. Tal como faço noutros cursos em que ensino A Desgraça, de Coetzee, ou À Espera dos Bárbaros, livros que evocam muito mais o desgosto.
É claro que uma das coisas que se espera modelar para os alunos é a vontade de ir a sítios que eles possam considerar proibidos e descobrir que é possível, de facto, ter uma discussão séria como adultos na sala de aula sobre este tipo de material. Senti o mesmo tipo de desafio e entusiasmo, há décadas, quando ensinei Crime e Castigo pela primeira vez.
A Sra. Costello pode falar legitimamente de caritas quando tenta aceitar a sua abordagem ao velho Sr. Phillips. Mas não temos esse termo ao nosso dispor para refletir sobre a depravação de Svidrigailov no romance de Dostoiévski. Com o qual os alunos têm muito a aprender. Daria Elizabeth Costello a uma turma de liceu? Leccionei dois anos de liceu no início da década de 1960. Não, não a daria a uma turma de liceu. Não, nunca tive qualquer dificuldade com essa passagem ou com qualquer passagem ou livro semelhante, a nível universitário. Descobri sempre que os alunos estão dispostos a aceitar o desafio de falar sobre este material.
A minha aluna que veio ao escritório tinha razão quando disse que ainda não tínhamos falado sobre o gosto. Ela viu o anúncio da conferência sobre o gosto e quis falar sobre isso. É justo. Será que a convenci de que “objetivamente” não havia nada de gratuitamente censurável em Coetzee? Penso que sim.
TERENCE DIGGORY: É óbvio que a questão da relação entre o gosto e a moralidade tem estado a pairar no perímetro da nossa conversa desde o início. A minha opinião é que são coisas distintas. Obviamente, envolvem juízos de valor, mas penso que o juízo de algo como “repugnante” no domínio estético (o oposto é “desagradável”) é uma coisa. Outra é a polaridade, que seria “isto é mau ou bom” ou “isto é mau ou errado?”. Penso que são tipos diferentes de juízos e que não devem ser confundidos. Obviamente, com o livro de Coetzee, isto é complicado porque nos é pedido que julguemos as acções de Elizabeth Costello, mas também nos é pedido que julguemos o livro de Coetzee, que é o problema que ela tem com o romance sobre o Holocausto. Não é fácil separar a estética da moral e, no entanto, penso que, de alguma forma, devemos tentar.
IAN BURUMA: Estou ligeiramente chocado com o facto de esta passagem bastante doce sobre a Sra. Costello e o velho Sr. Phillips provocar uma discussão sobre o quão escandalosa, difícil e ultrajante pode ser. Porque, quando éramos estudantes, estávamos preocupados com o facto de as pessoas mais velhas não gostarem do facto de estarmos a ler Last Exit to Brooklyn, ou algo do género, em comparação com o que isto é absolutamente inocente.
O outro paradoxo estranho, devido à natureza dos meios de comunicação social, é que diz que hesitaria em ler este livro com crianças do ensino secundário, mas estamos a falar de uma geração de crianças do ensino secundário, muitas das quais com oito ou nove anos já teriam visto pornografia pesada, como nós não tínhamos no nosso tempo. Há aqui qualquer coisa estranhamente desfasada.
ROBERT BOYERS: Quando leccionava no liceu, sabia que os meus alunos, mesmo nas turmas de honra, não teriam compreendido aquilo a que chama a doçura da transação com o velho Sr. Philips, e penso que não lhes teria querido explicar. É mais um instinto do que um juízo.
JAMES MILLER: Voltando ao processo civilizacional, parece-me que a formação do gosto, em muitas instituições de ensino de elite, como a Harvard de Lowell, está intrinsecamente ligada à formação do carácter e, de facto, está profundamente organizada em torno de rituais que envolvem comida. Estou a pensar nos clubes de comida da elite da Ivy League e no tipo de boas maneiras que aí eram impostas. Pensei nisto quando era professor visitante em Harvard.
Eu tinha frequentado uma faculdade de artes liberais normal, não muito diferente de Skidmore. Mas, em Harvard, todo este aparato totalizante, com todos os clubes e actividades extracurriculares, tinha a capacidade de pegar em alguém oriundo de um meio rural, que não tinha tido qualquer contacto com o que significava ser um cavalheiro em Wall Street, e permitir-lhe obter, em quatro anos, não só a confiança de que podia comportar-se como um cavalheiro, mas também de que tinha direito às recompensas dessa geração.
Os costumes podem parecer coisas triviais, até a comida, mas é um treino total de disposições, concebido para criar um habitus que é partilhado, e a um nível tal que se sabe que se está a entrar na classe dominante da América, e que se tem as coisas certas.
ROCHELLE GURSTEIN: Não li Elizabeth Costello recentemente, mas lembro-me que grande parte do livro, incluindo o capítulo com o Sr. Phillips, me perturbou. Duvido que a doçura tenha passado para mim mais do que tu pensas que passaria para os alunos do liceu, Bob. É claro que Elizabeth Costello, ao longo de todo o romance, está sempre a meter-se em situações muito difíceis, a comprometer-se com coisas que ofendem os outros e a deixam a pensar em si própria. Não sei se se pode ensinar “gosto” convidando mesmo os estudantes universitários a debaterem-se com os pensamentos de uma personagem assim.
ROBERT BOYERS: Uma das formas como Coetzee no-la mostra é representando as suas dúvidas sobre tudo o que ela faz, diz e pensa. É um aspeto da apresentação novelística do material, e não é como se fôssemos convidados a aprová-la inequivocamente, embora eu goste dela e a admire, por todo o tipo de razões.
JAMES MILLER: Para mim, o simples facto de estarmos a questionar isto e a falar sobre o assunto, e de o seu aluno o ter abordado, é exatamente a razão para mostrar por que razão deve ser ensinado. De que outra forma os fazer pensar sobre as convenções do gosto, como é formado, a comunidade que se forma à sua volta. A presunção aqui é que a arte deve estar sempre enraizada num gosto questionável, certo? ... Há tanta experiência humana que é chocantemente difícil de contemplar. O que é fascinante é o facto de não haver uma resposta fácil. Uma queca de misericórdia? Caritas? Queremos fazer todas essas perguntas.
ROCHELLE GURSTEIN: Isto faz-me lembrar a distinção que o Michael fez anteriormente entre não corrigir o gosto mas alargar o gosto. Penso que trocas de impressões como a que teve com esse aluno são indispensáveis.
JAMES MILLER: Outro exemplo, ou história. Levei a uma das minhas aulas na The New School uma mulher do Uganda que tinha sido uma rapariga de 13 anos raptada pelo exército de Amin, usada como escrava sexual com cerca de 14 outras raparigas. Conseguiu que estas raparigas escapassem e regressaram à sua aldeia. Depois de experiências chocantes, algumas destas raparigas mal conseguiam andar.
A aldeia não aceitou as raparigas de volta porque estavam danificadas e já não eram humanas para eles. Mandou as raparigas construir as suas próprias cabanas do outro lado da margem do rio, um local onde estive e obrigou a aldeia a aceitar as raparigas de volta. Mais tarde, tornou-se diretora dos esforços de combate ao tráfico de seres humanos em três países da África Oriental.
Veio à minha sala de aula, a conversa desenrolou-se e um aluno disse: “Não há avisos de activação em nenhum dos livros do programa”. A rapariga ugandesa perguntou-me: “O que é um aviso de activação?” Eu respondi: “Os alunos explicam-lhe”.
Ela disse-lhes: “Estou a trabalhar num livro, um livro de memórias, sobre a minha experiência. Aconteceram coisas indescritíveis comigo e com as outras raparigas. Estão a dizer que não leriam o meu livro?” Aqui estava uma pessoa que viveu a sua experiência e, de alguma forma, a estudante que exigia um aviso de activação e um espaço seguro acabou por compreender que tinha de ouvir e ficar grata.
CELESTE MARCUS: Acho que é verdade que mesmo os jovens que estão dispostos a exigir espaços seguros onde não têm de ouvir certas coisas podem ser levados a envolver-se e até a ficar gratos.
Muito do sexo é, na verdade, planeado. Dizemos coisas que ouvimos nos filmes e fazemo-lo porque queremos fazer parte de um certo tipo de classe. Ou queremos ser capazes de representar o amor, o carinho e a sensualidade, e é muito mais fácil fazê-lo por imitação do que tentar descobrir do que é que gostamos.
ROBERT BOYERS: Gostaria de falar um pouco mais sobre a palavra “guião”, Celeste?
CELESTE MARCUS: Mas estamos todos habituados a interações com guião, especialmente quando há sexo envolvido, e os desvios são susceptíveis de desafiar o nosso sentido do que é decente e de bom gosto. De certa forma, o encontro entre Elizabeth Costello e o Sr. Phillips pertence a um cenário planeado, não é verdade? O facto de se poder sequer pensar em usar uma palavra como caritas para descrever o que se está a passar é muito tranquilizador. Tudo se insere no quadro de um comportamento sexual normal, mesmo que inicialmente possa parecer chocante.
Na história de Coetzee, os participantes conhecem os seus papéis, apesar do stress invulgar da situação. Mas se estamos a fazer experiências com o género e com a sexualidade, estamos a colocar muita pressão sobre nós próprios para não incorporarmos outros modelos do que é ser uma pessoa, do que é estar apaixonado e do que é ser atraído e atraente, porque estamos a forçar-nos a inventar isso sozinhos. E aí os desafios, não só para os participantes mas também para aqueles que os querem compreender e representar, são maiores. Para os jovens que se identificam como não-binários, não podem participar na tradição do género da mesma forma que a maioria das pessoas. Susan Sontag, numa das leituras que nos foram atribuídas, diz que ser feminino é ser atraente de uma forma convencional, mas se estivermos a tentar criar a nossa própria interpretação do que é o nosso género... não sei.
É uma experiência realmente formativa ter uma conversa com uma pessoa que concluiu que não se identifica com o sexo em que nasceu. Tenho inveja do facto de essa pessoa ser suficientemente livre na sua própria mente para chegar a essa conclusão, e de ter uma compreensão tão específica e poderosa de quem é, que pode tomar essas decisões por si própria e rejeitar o resto da tradição de que todos nós dependemos. Pode ser que alguém que não consegue envolver-se com o material de Elizabeth Costello seja provavelmente representativo de um tipo de intolerância na geração mais jovem. Mas penso que o choque e a intolerância também podem vir acompanhados de uma maior liberdade noutros domínios.
TOM HEALY: Não tenho a certeza quanto à maior liberdade, e não tenho a certeza de que a liberdade tenha muito a ver com um alargamento do gosto. Mas vamos ver onde vamos parar com esta conversa.
JAMES MILLER: Ainda estou a pensar no estado do ensino superior e no que é suposto ensinarmos às pessoas, e ainda não posso deixar de lado Coetzee. Como romancista, ele é um ótimo exemplo de um escritor do tipo socrático, na medida em que expõe os dilemas sem os resolver por nós. Em filosofia, os diálogos de Platão que não têm conclusão ou são inconclusivos são chamados aporéticos. Há um estilo de ensino que eu adoro, que é o de inquietar e perfurar a complacência. Nesse sentido, é puramente negativo, mas a personagem de Sócrates encarna isso, como uma virtude.
Mas como isso é diferente da noção de uma tradição de práticas que toma forma em termos de um padrão ou critério fixo. James Russell Lowell sabe claramente qual é o seu critério e como vai ser transmitido. Ele quer formar um cavalheiro e sabe como quer que isso seja. Se olharmos para a universidade de hoje, pergunto-me se não haverá um tipo de padrão semelhante que, de facto, se tenha insinuado. Na minha própria instituição, a New School, a declaração de missão diz que queremos formar bons cidadãos democráticos empenhados na diversidade, na inclusão e no pluralismo. Isso é, de facto, uma norma. É um paradigma e tem, de facto, funcionários, burocratas, que o aplicam de várias formas nos dormitórios. Mais uma vez, é um paradigma totalizante. É o que me parece. Em Harvard, passaram de um padrão para a criação do sistema eletivo, criaram o pluralismo de valores e eliminaram o currículo de base. E assim parece que, com a dissipação do sentido de bildung do século XIX e a criação de cavalheiros, substituímos gradualmente, quase sem querer, um outro tipo de norma que, na prática, é de facto hostil à incerteza e ao desconforto, e que levanta dúvidas. O que ele quer é a edificação. Quer conforto. Quer conforto, quer reforço. Estou a generalizar demasiado, mas parece-me que o aspeto da educação clássica que tinha este aspeto puramente negativo de furar a complacência e de nos deixar pendurados, parece-me que está em risco no momento atual
IAN BURUMA: Há muito no que diz, Jim, e é claro que estamos todos a tentar regressar às questões de gosto. No entanto, gostaria de me dirigir à Celeste e dizer que concordo que a questão do género está a exercer uma enorme pressão sobre muitos jovens. Isto tem muito a ver com a linguagem e com as exigências das novas estruturas burocráticas de poder que insistem em que adoptemos formas de falar que podem parecer tudo menos naturais - pelo menos para alguns de nós.
Deixem-me pôr as coisas nestes termos: Falar uma língua estrangeira é, em parte, uma forma de teatro. De certa forma, estamos a representar uma pessoa diferente. Penso que o mesmo pode ser verdade quando se está a dar aulas e, em alguns casos, a moldar o gosto. Nos anos 60, era muito comum as pessoas que pertenciam à classe média alta adoptarem uma linguagem da classe trabalhadora. Mick Jagger, um bom rapaz da classe média dos subúrbios, começou a falar algo como Cockney, o que era um ato completo, um ato teatral. Os rapazes da classe média alta, que andavam em escolas públicas, eram intimidados se não adoptassem os sotaques da classe trabalhadora dos seus colegas. Isso pode acontecer nos dois sentidos. A outra forma de atuar de forma teatral é que a classe média, a classe aspirante, normalmente sentia que tinha de ser muito rígida e falar um inglês correto, caso contrário poderia voltar a descer. A classe alta adoptava muitas vezes hábitos linguísticos da classe trabalhadora porque podia dar-se ao luxo de o fazer, e ser brincalhona com isso.
O meu problema com a política de género de hoje está relacionado com tudo isto. Não descarto de todo o facto de algumas pessoas se sentirem profundamente desconfortáveis com o género em que nasceram, ou com o sexo em que nasceram e sentirem que querem ser de um sexo diferente. Não se pode ignorar isso de forma alguma. Mas o que sinto um pouco de falta é o aspeto teatral. Travestir-se não é a mesma coisa que transgénero. O aspeto teatral do cross gender, ou mesmo a fluidez da identidade sexual, dos homens femininos e das mulheres masculinas, etc., era algo que se podia adotar. Havia um espetro dentro do qual se podia adotar muitas identidades sem ser absoluto. Penso que a pressão exercida sobre os jovens atualmente é, em parte, devido ao facto de se sentirem desconfortáveis com um papel masculino, sentirem que têm de ser mulheres, pelo menos alguns sentem-no. O que é interessante é, então, a frequência com que adoptam as noções mais antiquadas do que é ser mulher. Os homens que se transformaram em mulheres - desculpem se isto parece um pouco duro e um pouco provocador - parecem-me muitas vezes estar a desempenhar uma espécie de papel de Doris Day e, de repente, adoptam enormes quantidades de jóias e puxam o cabelo para trás, etc., de uma forma que as mulheres já não sentem necessidade de fazer. Claro que isso também é teatral e performativo de certa forma, mas já não é lúdico.
Como acontece com tantas coisas hoje em dia, torna-se uma questão de identidade absoluta. Penso que isso é prejudicial para os seres humanos, quer se trate de classe, de falar línguas diferentes ou de adotar personalidades sexuais.
CELESTE MARCUS: Cresci numa comunidade judaica ortodoxa e, por isso, os papéis definidos para homens e mulheres eram absolutos. As mulheres tinham de se vestir de uma determinada maneira e os homens de uma determinada maneira. As mulheres tinham de se sentar num determinado lugar e os homens tinham de se sentar num determinado lugar. Os papéis eram fixos. O facto de se ser um membro de pleno direito dessa sociedade dependia de se saber ou não desempenhar corretamente esse papel. Posso compreender que, se a fluidez de género é apenas parte da forma como o seu meio social se expressa, se a sua única interação com ele é ler artigos sobre o assunto no New York Times, pode parecer que é a mesma coisa que o mundo de onde vim, na medida em que existem regras sobre como se deve comportar e o que é suposto dizer. Mas se estivermos a interagir com as pessoas que fazem essas escolhas por si próprias, é realmente muito diferente. Embora haja certamente pessoas que optam por ser, não sei, Doris Day-y sobre isso, o facto é que são elas que fazem essa escolha. Ao passo que, na comunidade de onde venho, se quisermos ser um membro desse mundo, não podemos fazer essa escolha. Penso que ainda há mulheres que se sentem Step-ford-y, e que é assim que pensam que uma mulher deve ser.
Penso que o género, por mais livre que se seja na nossa própria mente, vem com muita bagagem para toda a gente e a forma como escolhemos negociá-lo pode ser um desafio. Penso que se a feminilidade for expressa por alguém que nasceu num corpo masculino, há mais liberdade do que se for alguém que nasceu numa comunidade judaica ortodoxa e usa uma saia comprida porque, se não o fizer, não vai encontrar um marido aos 19 anos.
IAN BURUMA: Mas é uma comparação estranha, não acha?
CELESTE MARCUS: Porquê? Se estamos a falar de papéis de género prescritos...
BARBARA BLACK: Ainda há pouco estava interessada na palavra “deve” e em pensar que o gosto prescreve muitas vezes o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e que o gosto se enquadra e é adequado. Pensemos na categoria do fixe, que penso ser um sabor do gosto e que implica uma espécie de conhecimento. Penso que a pessoa de bom gosto tem frequentemente um conhecimento secreto ou gnóstico que os outros não têm. Até certo ponto, isto faz parte da nossa conversa sobre a performatividade e a pressão para criar uma persona que exprima uma vida escolhida ou imposta. Penso que o gosto tem a ver com o que separa as pessoas. O “cool” é um modo de distanciamento e, na medida em que é uma expressão de gosto, tem tudo a ver com a imagem do eu aos olhos dos outros. Um esforço para incorporar uma sensibilidade que pode marcar a pertença de uma pessoa a um grupo seleto.
Não sei. Estou um pouco confuso com isso. Olha, o gosto tem a ver com regras e convenções. Os artistas, os verdadeiros artistas, desafiam as regras e criam as suas próprias. Ser fixe, parece-me, é viver sem convenções comuns, porque já não se pode ser o que todos os outros estão a fazer.
JAMES MILLER: Tenho estado a refletir sobre algo que a Celeste disse e a tentar pensar como é que, na geração atual, a experimentação de género, esse sentido muito forte de escolher a vida experimental, coexiste na mesma zona síncrona que um novo padrão emergente do que se pode e não se pode dizer, em termos de diversidade, equidade e inclusão.
ROBERT BOYERS: É uma contradição preocupante, já referida pelo Ian e por outros, e que se prende com as questões que todos parecemos ter sobre o gosto como uma disciplina imposta e o gosto como um dom que adoptamos, pelo menos em parte, para nós próprios.
JAMES MILLER: Mas tenho uma outra reflexão: penso que existe um paradoxo, na medida em que, mesmo como pensador solitário, se tivermos um sentido de ancoragem e convicção, isso liberta-nos para irmos a sítios e levantarmos dúvidas que, de outra forma, não conseguiríamos levantar. Para mim, o caso paradigmático é o das Confissões de Agostinho, que explora os mistérios e a multiplicidade do ser humano e os armários da memória. Ele é capaz de ir muito, muito, muito fundo porque, em última análise, está ancorado em Deus e pode sempre regressar a Deus.
E isto, de facto, também é verdade para Sócrates, que pode levantar as dúvidas que levanta porque pertence, de facto, a uma comunidade com um conjunto muito forte de normas comuns. Quando as desrespeita, pode irritar a pessoa famosa com quem está a falar, mas não vai provocar uma guerra civil e o fim da civilização tal como a conhecemos. Experimentação versus padrões, paradigmas e regras... Essa tensão na educação, e também num sentido geracional, atrai-me.
MEMBRO DO PÚBLICO: É sempre difícil saber com quem é seguro partilhar conhecimentos proibidos, sabendo que não vão corromper o seu público ou os seus companheiros. Há segurança em ter bom gosto e sabê-lo, sabendo que não se vai transgredir.
Dito isto, penso que, para as pessoas que levam a sério a arte e a cultura, grande parte do bom gosto consiste em envolver-se com coisas que desafiam o seu sentido de segurança, quer se trate de uma obra de arte desafiante, ou de um prato feito de algo que nunca comeu antes, ou de vestir algo que não é facilmente compreendido por outras pessoas, ou talvez apenas por aqueles que pertencem à sua comunidade. Então, qual é a relação entre segurança e sabor?
TOM HEALY: Tendo crescido muito pobre, acho que parte da resposta é que é um privilégio contornar essa fronteira. Se formos pobres ou se formos mulheres numa família ortodoxa, podemos não ter o privilégio de encontrar ou procurar novos tipos de risco.
ROBERT BOYERS: Fiquei espantado com a forma como a noção de segurança afectou a academia e o discurso sobre a cultura, simplesmente porque me pareceu, no caminho para a idade adulta, que a segurança era a última coisa que eu queria. Não porque viesse de um meio remotamente privilegiado, mas porque queria ser abalado, excitado e exposto a coisas que não me eram familiares. Claro que houve coisas ao longo do caminho com as quais, tal como todos os outros à mesa, me confrontei e que eram desagradáveis, mas não teria querido trocar essa experiência por um regime em que a segurança fosse o princípio ou o ethos que governava. Na sala de aula, uma das coisas que se faz, penso eu, é sugerir que a segurança não é o nosso objetivo.
Se isso significar que os alunos têm de descobrir que são realmente muito mais fortes e poderosos do que pensavam ser, que outras pessoas lhes têm dito que são, isso será um aspeto muito importante do seu desenvolvimento enquanto jovens. Vão descobrir que podem realmente ler Elizabeth Costello, Waiting for the Barbarians e Disgrace. Sei que a segurança se tornou, como sugere, uma noção muito dominante em grande parte da cultura. Muitos estudantes com quem falo à mesa de jantar, etc., querem falar sobre o assunto. Estão interessados no assunto para si próprios e para a cultura do corpo estudantil em que se inserem. É um assunto importante.
MEMBRO DA AUDIÊNCIA N.º 2: Voltando um pouco atrás, o Tom Healy disse que queremos que a arte seja de gosto questionável, certo? Penso que se estivermos a correlacionar o gosto com o género, ou se estivermos a correlacionar o mundo da arte com o género, o género é uma espécie de performance em si mesmo. É um género de arte.
Penso que é interessante que, quando a performance do género começa a ser desafiante, as pessoas ficam preocupadas. As pessoas sentem uma pressão. Não sei bem o que é que isso significa, mas a aplicação de pressão parece-me muitas vezes ser sentida como uma violação do gosto.
TOM HEALY: Ouço falar da pressão sobre os jovens, claro. Mas, no que me diz respeito, não me sinto de todo sob pressão, nem me importo que as pessoas queiram mudar de género. E quanto ao espetáculo, bem, sou totalmente a favor disso. Só acho que há muitas formas de representar a masculinidade e a feminilidade, quer se seja homem ou mulher, sem ter de dar o passo absoluto, incluindo operações, etc. Mais uma vez, não descarto o facto de algumas pessoas sentirem uma necessidade absoluta de o fazer, mas há muitas formas de desempenhar esses papéis sem ter de ser absoluto ao declarar: “Sou um homem ou uma mulher”.
CELESTE MARCUS: O mundo da fluidez de género, por definição, não nos diz que temos de escolher. É aliado das pessoas trans, não porque façam parte do mesmo movimento ou peçam o mesmo tipo de aceitação, mas porque estão sujeitas à mesma marginalização. Penso que há ideias erradas que informam a conversa sobre fluidez e liberdade de género. Os jovens estão a dizer que estes dois tipos de pessoas merecem respeito, liberdade e segurança.
Ninguém está a dizer a ninguém que tem de fazer uma cirurgia de mudança de sexo. A única coisa que as pessoas estão a dizer a essa comunidade é que, se quiserem, devem poder fazê-lo. É a mesma comunidade que diz: “Se eu quiser ter um género fluido, então devo poder fazê-lo”. A razão pela qual são aliados é porque deixam muitas das mesmas pessoas desconfortáveis, não porque estejam a pedir a mesma coisa.
IAN BURUMA: Mas isto não tem nada a ver com gostos. Se alguém quiser mudar de género e lhe dissermos: “Isso é porque é do teu gosto tornares-te uma mulher” ou “um homem”, essa pessoa fica muito ofendida. É esse o objetivo, que não é apenas uma questão de gosto. Enquanto que o travestismo é uma questão de gosto. Sou a favor de mais fluidez, mas sou ligeiramente... Não me sinto pressionado, mas sinto que algumas pessoas são pressionadas, devido ao clima atual, a fazer uma escolha absoluta, o que é o oposto da fluidez.
MEMBRO DA AUDIÊNCIA N.º 3: Sr. Healy, estava a falar sobre o que aconteceu com os jovens rapazes na Igreja Católica e como se sentiu enojado ao saber da sua experiência. Diria que o nojo é essencial como resposta a estas coisas?
TOM HEALY: As pessoas têm de fazer as suas próprias escolhas sobre a arte que querem experimentar e até sobre a história que querem conhecer. Há tantos graus de experiência humana que não quero que ninguém nos diga de que arte pode ser feita ou que emoções é suposto sentirmos.
ROCHELLE GURSTEIN: Fico contente por nos voltarmos novamente para o gosto. Toda a história da vanguarda tem a ver com subversões do gosto. Isto acontece desde o século XIX, com as pessoas a rejeitarem o status quo e a fazerem arte nova. Nos anos 60, muitos artistas queixavam-se de que “já não se pode chocar a burguesia”. Eles queriam ser chocados. Tinha-se tornado um gosto, e o gosto não desapareceu exatamente. Nem mesmo agora. O imperativo é, portanto, continuar a insistir. Qual é o limite? As pessoas habituam-se às coisas. O bom gosto não ajuda quando o desejo é ir para além de um limite.
TOM HEALY: A resposta é: se pode ser mercantilizado, é absorvido. Vivemos numa cultura de consumo, por isso, sim, tudo será absorvido.
IAN BURUMA: As fotografias para as calças de ganga ou roupa interior Calvin Klein são um exemplo perfeito de como a cultura gay foi absorvida pela corrente dominante capitalista. E, no entanto, ainda não defendemos verdadeiramente a vulgaridade e o mau gosto. Porque não creio que nenhuma arte que valha o seu nome tenha passado sem algum mau gosto e vulgaridade. Já mencionámos o espírito carnavalesco, tudo, desde as peças de Shakespeare às óperas de Mozart, etc. Todos eles se inspiraram nas culturas mais vulgares do seu tempo. Sem isso, o trabalho seria extremamente aborrecido e académico. É absolutamente essencial ser pelo menos um pouco vulgar.
ROBERT BOYERS: É possível incorporar uma apetência pela vulgaridade na sua prática pedagógica?
IAN BURUMA: Estou a tentar.
BARBARA BLACK: Eu também.
ROBERT BOYERS: Estou a pensar no meu amigo psicanalista Adam Phillips, que escreve que gostaria que o vulgar “fosse um termo artístico útil e não um insulto simples e direto”.
TOM HEALY: Acho que todos podemos concordar com isso.
ROBERT BOYERS: O Adam também escreve que “o vulgar é o bode expiatório do bom gosto”.
IAN BURUMA: Isso é ainda melhor, não é?
ROBERT BOYERS: E terminemos com mais uma citação provocadora de Phillips e pensemos, pelo menos até à próxima conferência Salmagundi, no que tem a ver com o gosto: “Os vulgares recusam-se a perder”.
ROBERT BOYERS: E terminemos com mais uma citação provocadora de Phillips e pensemos, pelo menos até à próxima conferência Salmagundi, no que tem a ver com o gosto: “Os vulgares recusam-se a perder”.
A minha aluna que veio ao escritório tinha razão quando disse que ainda não tínhamos falado sobre o gosto. Ela viu o anúncio da conferência sobre o gosto e quis falar sobre isso. É justo. Será que a convenci de que “objetivamente” não havia nada de gratuitamente censurável em Coetzee? Penso que sim.
TERENCE DIGGORY: É óbvio que a questão da relação entre o gosto e a moralidade tem estado a pairar no perímetro da nossa conversa desde o início. A minha opinião é que são coisas distintas. Obviamente, envolvem juízos de valor, mas penso que o juízo de algo como “repugnante” no domínio estético (o oposto é “desagradável”) é uma coisa. Outra é a polaridade, que seria “isto é mau ou bom” ou “isto é mau ou errado?”. Penso que são tipos diferentes de juízos e que não devem ser confundidos. Obviamente, com o livro de Coetzee, isto é complicado porque nos é pedido que julguemos as acções de Elizabeth Costello, mas também nos é pedido que julguemos o livro de Coetzee, que é o problema que ela tem com o romance sobre o Holocausto. Não é fácil separar a estética da moral e, no entanto, penso que, de alguma forma, devemos tentar.
IAN BURUMA: Estou ligeiramente chocado com o facto de esta passagem bastante doce sobre a Sra. Costello e o velho Sr. Phillips provocar uma discussão sobre o quão escandalosa, difícil e ultrajante pode ser. Porque, quando éramos estudantes, estávamos preocupados com o facto de as pessoas mais velhas não gostarem do facto de estarmos a ler Last Exit to Brooklyn, ou algo do género, em comparação com o que isto é absolutamente inocente.
O outro paradoxo estranho, devido à natureza dos meios de comunicação social, é que diz que hesitaria em ler este livro com crianças do ensino secundário, mas estamos a falar de uma geração de crianças do ensino secundário, muitas das quais com oito ou nove anos já teriam visto pornografia pesada, como nós não tínhamos no nosso tempo. Há aqui qualquer coisa estranhamente desfasada.
ROBERT BOYERS: Quando leccionava no liceu, sabia que os meus alunos, mesmo nas turmas de honra, não teriam compreendido aquilo a que chama a doçura da transação com o velho Sr. Philips, e penso que não lhes teria querido explicar. É mais um instinto do que um juízo.
JAMES MILLER: Voltando ao processo civilizacional, parece-me que a formação do gosto, em muitas instituições de ensino de elite, como a Harvard de Lowell, está intrinsecamente ligada à formação do carácter e, de facto, está profundamente organizada em torno de rituais que envolvem comida. Estou a pensar nos clubes de comida da elite da Ivy League e no tipo de boas maneiras que aí eram impostas. Pensei nisto quando era professor visitante em Harvard.
Eu tinha frequentado uma faculdade de artes liberais normal, não muito diferente de Skidmore. Mas, em Harvard, todo este aparato totalizante, com todos os clubes e actividades extracurriculares, tinha a capacidade de pegar em alguém oriundo de um meio rural, que não tinha tido qualquer contacto com o que significava ser um cavalheiro em Wall Street, e permitir-lhe obter, em quatro anos, não só a confiança de que podia comportar-se como um cavalheiro, mas também de que tinha direito às recompensas dessa geração.
Os costumes podem parecer coisas triviais, até a comida, mas é um treino total de disposições, concebido para criar um habitus que é partilhado, e a um nível tal que se sabe que se está a entrar na classe dominante da América, e que se tem as coisas certas.
ROCHELLE GURSTEIN: Não li Elizabeth Costello recentemente, mas lembro-me que grande parte do livro, incluindo o capítulo com o Sr. Phillips, me perturbou. Duvido que a doçura tenha passado para mim mais do que tu pensas que passaria para os alunos do liceu, Bob. É claro que Elizabeth Costello, ao longo de todo o romance, está sempre a meter-se em situações muito difíceis, a comprometer-se com coisas que ofendem os outros e a deixam a pensar em si própria. Não sei se se pode ensinar “gosto” convidando mesmo os estudantes universitários a debaterem-se com os pensamentos de uma personagem assim.
ROBERT BOYERS: Uma das formas como Coetzee no-la mostra é representando as suas dúvidas sobre tudo o que ela faz, diz e pensa. É um aspeto da apresentação novelística do material, e não é como se fôssemos convidados a aprová-la inequivocamente, embora eu goste dela e a admire, por todo o tipo de razões.
JAMES MILLER: Para mim, o simples facto de estarmos a questionar isto e a falar sobre o assunto, e de o seu aluno o ter abordado, é exatamente a razão para mostrar por que razão deve ser ensinado. De que outra forma os fazer pensar sobre as convenções do gosto, como é formado, a comunidade que se forma à sua volta. A presunção aqui é que a arte deve estar sempre enraizada num gosto questionável, certo? ... Há tanta experiência humana que é chocantemente difícil de contemplar. O que é fascinante é o facto de não haver uma resposta fácil. Uma queca de misericórdia? Caritas? Queremos fazer todas essas perguntas.
ROCHELLE GURSTEIN: Isto faz-me lembrar a distinção que o Michael fez anteriormente entre não corrigir o gosto mas alargar o gosto. Penso que trocas de impressões como a que teve com esse aluno são indispensáveis.
JAMES MILLER: Outro exemplo, ou história. Levei a uma das minhas aulas na The New School uma mulher do Uganda que tinha sido uma rapariga de 13 anos raptada pelo exército de Amin, usada como escrava sexual com cerca de 14 outras raparigas. Conseguiu que estas raparigas escapassem e regressaram à sua aldeia. Depois de experiências chocantes, algumas destas raparigas mal conseguiam andar.
A aldeia não aceitou as raparigas de volta porque estavam danificadas e já não eram humanas para eles. Mandou as raparigas construir as suas próprias cabanas do outro lado da margem do rio, um local onde estive e obrigou a aldeia a aceitar as raparigas de volta. Mais tarde, tornou-se diretora dos esforços de combate ao tráfico de seres humanos em três países da África Oriental.
Veio à minha sala de aula, a conversa desenrolou-se e um aluno disse: “Não há avisos de activação em nenhum dos livros do programa”. A rapariga ugandesa perguntou-me: “O que é um aviso de activação?” Eu respondi: “Os alunos explicam-lhe”.
Ela disse-lhes: “Estou a trabalhar num livro, um livro de memórias, sobre a minha experiência. Aconteceram coisas indescritíveis comigo e com as outras raparigas. Estão a dizer que não leriam o meu livro?” Aqui estava uma pessoa que viveu a sua experiência e, de alguma forma, a estudante que exigia um aviso de activação e um espaço seguro acabou por compreender que tinha de ouvir e ficar grata.
CELESTE MARCUS: Acho que é verdade que mesmo os jovens que estão dispostos a exigir espaços seguros onde não têm de ouvir certas coisas podem ser levados a envolver-se e até a ficar gratos.
Muito do sexo é, na verdade, planeado. Dizemos coisas que ouvimos nos filmes e fazemo-lo porque queremos fazer parte de um certo tipo de classe. Ou queremos ser capazes de representar o amor, o carinho e a sensualidade, e é muito mais fácil fazê-lo por imitação do que tentar descobrir do que é que gostamos.
ROBERT BOYERS: Gostaria de falar um pouco mais sobre a palavra “guião”, Celeste?
CELESTE MARCUS: Mas estamos todos habituados a interações com guião, especialmente quando há sexo envolvido, e os desvios são susceptíveis de desafiar o nosso sentido do que é decente e de bom gosto. De certa forma, o encontro entre Elizabeth Costello e o Sr. Phillips pertence a um cenário planeado, não é verdade? O facto de se poder sequer pensar em usar uma palavra como caritas para descrever o que se está a passar é muito tranquilizador. Tudo se insere no quadro de um comportamento sexual normal, mesmo que inicialmente possa parecer chocante.
Na história de Coetzee, os participantes conhecem os seus papéis, apesar do stress invulgar da situação. Mas se estamos a fazer experiências com o género e com a sexualidade, estamos a colocar muita pressão sobre nós próprios para não incorporarmos outros modelos do que é ser uma pessoa, do que é estar apaixonado e do que é ser atraído e atraente, porque estamos a forçar-nos a inventar isso sozinhos. E aí os desafios, não só para os participantes mas também para aqueles que os querem compreender e representar, são maiores. Para os jovens que se identificam como não-binários, não podem participar na tradição do género da mesma forma que a maioria das pessoas. Susan Sontag, numa das leituras que nos foram atribuídas, diz que ser feminino é ser atraente de uma forma convencional, mas se estivermos a tentar criar a nossa própria interpretação do que é o nosso género... não sei.
É uma experiência realmente formativa ter uma conversa com uma pessoa que concluiu que não se identifica com o sexo em que nasceu. Tenho inveja do facto de essa pessoa ser suficientemente livre na sua própria mente para chegar a essa conclusão, e de ter uma compreensão tão específica e poderosa de quem é, que pode tomar essas decisões por si própria e rejeitar o resto da tradição de que todos nós dependemos. Pode ser que alguém que não consegue envolver-se com o material de Elizabeth Costello seja provavelmente representativo de um tipo de intolerância na geração mais jovem. Mas penso que o choque e a intolerância também podem vir acompanhados de uma maior liberdade noutros domínios.
TOM HEALY: Não tenho a certeza quanto à maior liberdade, e não tenho a certeza de que a liberdade tenha muito a ver com um alargamento do gosto. Mas vamos ver onde vamos parar com esta conversa.
JAMES MILLER: Ainda estou a pensar no estado do ensino superior e no que é suposto ensinarmos às pessoas, e ainda não posso deixar de lado Coetzee. Como romancista, ele é um ótimo exemplo de um escritor do tipo socrático, na medida em que expõe os dilemas sem os resolver por nós. Em filosofia, os diálogos de Platão que não têm conclusão ou são inconclusivos são chamados aporéticos. Há um estilo de ensino que eu adoro, que é o de inquietar e perfurar a complacência. Nesse sentido, é puramente negativo, mas a personagem de Sócrates encarna isso, como uma virtude.
Mas como isso é diferente da noção de uma tradição de práticas que toma forma em termos de um padrão ou critério fixo. James Russell Lowell sabe claramente qual é o seu critério e como vai ser transmitido. Ele quer formar um cavalheiro e sabe como quer que isso seja. Se olharmos para a universidade de hoje, pergunto-me se não haverá um tipo de padrão semelhante que, de facto, se tenha insinuado. Na minha própria instituição, a New School, a declaração de missão diz que queremos formar bons cidadãos democráticos empenhados na diversidade, na inclusão e no pluralismo. Isso é, de facto, uma norma. É um paradigma e tem, de facto, funcionários, burocratas, que o aplicam de várias formas nos dormitórios. Mais uma vez, é um paradigma totalizante. É o que me parece. Em Harvard, passaram de um padrão para a criação do sistema eletivo, criaram o pluralismo de valores e eliminaram o currículo de base. E assim parece que, com a dissipação do sentido de bildung do século XIX e a criação de cavalheiros, substituímos gradualmente, quase sem querer, um outro tipo de norma que, na prática, é de facto hostil à incerteza e ao desconforto, e que levanta dúvidas. O que ele quer é a edificação. Quer conforto. Quer conforto, quer reforço. Estou a generalizar demasiado, mas parece-me que o aspeto da educação clássica que tinha este aspeto puramente negativo de furar a complacência e de nos deixar pendurados, parece-me que está em risco no momento atual
IAN BURUMA: Há muito no que diz, Jim, e é claro que estamos todos a tentar regressar às questões de gosto. No entanto, gostaria de me dirigir à Celeste e dizer que concordo que a questão do género está a exercer uma enorme pressão sobre muitos jovens. Isto tem muito a ver com a linguagem e com as exigências das novas estruturas burocráticas de poder que insistem em que adoptemos formas de falar que podem parecer tudo menos naturais - pelo menos para alguns de nós.
Deixem-me pôr as coisas nestes termos: Falar uma língua estrangeira é, em parte, uma forma de teatro. De certa forma, estamos a representar uma pessoa diferente. Penso que o mesmo pode ser verdade quando se está a dar aulas e, em alguns casos, a moldar o gosto. Nos anos 60, era muito comum as pessoas que pertenciam à classe média alta adoptarem uma linguagem da classe trabalhadora. Mick Jagger, um bom rapaz da classe média dos subúrbios, começou a falar algo como Cockney, o que era um ato completo, um ato teatral. Os rapazes da classe média alta, que andavam em escolas públicas, eram intimidados se não adoptassem os sotaques da classe trabalhadora dos seus colegas. Isso pode acontecer nos dois sentidos. A outra forma de atuar de forma teatral é que a classe média, a classe aspirante, normalmente sentia que tinha de ser muito rígida e falar um inglês correto, caso contrário poderia voltar a descer. A classe alta adoptava muitas vezes hábitos linguísticos da classe trabalhadora porque podia dar-se ao luxo de o fazer, e ser brincalhona com isso.
O meu problema com a política de género de hoje está relacionado com tudo isto. Não descarto de todo o facto de algumas pessoas se sentirem profundamente desconfortáveis com o género em que nasceram, ou com o sexo em que nasceram e sentirem que querem ser de um sexo diferente. Não se pode ignorar isso de forma alguma. Mas o que sinto um pouco de falta é o aspeto teatral. Travestir-se não é a mesma coisa que transgénero. O aspeto teatral do cross gender, ou mesmo a fluidez da identidade sexual, dos homens femininos e das mulheres masculinas, etc., era algo que se podia adotar. Havia um espetro dentro do qual se podia adotar muitas identidades sem ser absoluto. Penso que a pressão exercida sobre os jovens atualmente é, em parte, devido ao facto de se sentirem desconfortáveis com um papel masculino, sentirem que têm de ser mulheres, pelo menos alguns sentem-no. O que é interessante é, então, a frequência com que adoptam as noções mais antiquadas do que é ser mulher. Os homens que se transformaram em mulheres - desculpem se isto parece um pouco duro e um pouco provocador - parecem-me muitas vezes estar a desempenhar uma espécie de papel de Doris Day e, de repente, adoptam enormes quantidades de jóias e puxam o cabelo para trás, etc., de uma forma que as mulheres já não sentem necessidade de fazer. Claro que isso também é teatral e performativo de certa forma, mas já não é lúdico.
Como acontece com tantas coisas hoje em dia, torna-se uma questão de identidade absoluta. Penso que isso é prejudicial para os seres humanos, quer se trate de classe, de falar línguas diferentes ou de adotar personalidades sexuais.
CELESTE MARCUS: Cresci numa comunidade judaica ortodoxa e, por isso, os papéis definidos para homens e mulheres eram absolutos. As mulheres tinham de se vestir de uma determinada maneira e os homens de uma determinada maneira. As mulheres tinham de se sentar num determinado lugar e os homens tinham de se sentar num determinado lugar. Os papéis eram fixos. O facto de se ser um membro de pleno direito dessa sociedade dependia de se saber ou não desempenhar corretamente esse papel. Posso compreender que, se a fluidez de género é apenas parte da forma como o seu meio social se expressa, se a sua única interação com ele é ler artigos sobre o assunto no New York Times, pode parecer que é a mesma coisa que o mundo de onde vim, na medida em que existem regras sobre como se deve comportar e o que é suposto dizer. Mas se estivermos a interagir com as pessoas que fazem essas escolhas por si próprias, é realmente muito diferente. Embora haja certamente pessoas que optam por ser, não sei, Doris Day-y sobre isso, o facto é que são elas que fazem essa escolha. Ao passo que, na comunidade de onde venho, se quisermos ser um membro desse mundo, não podemos fazer essa escolha. Penso que ainda há mulheres que se sentem Step-ford-y, e que é assim que pensam que uma mulher deve ser.
Penso que o género, por mais livre que se seja na nossa própria mente, vem com muita bagagem para toda a gente e a forma como escolhemos negociá-lo pode ser um desafio. Penso que se a feminilidade for expressa por alguém que nasceu num corpo masculino, há mais liberdade do que se for alguém que nasceu numa comunidade judaica ortodoxa e usa uma saia comprida porque, se não o fizer, não vai encontrar um marido aos 19 anos.
IAN BURUMA: Mas é uma comparação estranha, não acha?
CELESTE MARCUS: Porquê? Se estamos a falar de papéis de género prescritos...
BARBARA BLACK: Ainda há pouco estava interessada na palavra “deve” e em pensar que o gosto prescreve muitas vezes o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e que o gosto se enquadra e é adequado. Pensemos na categoria do fixe, que penso ser um sabor do gosto e que implica uma espécie de conhecimento. Penso que a pessoa de bom gosto tem frequentemente um conhecimento secreto ou gnóstico que os outros não têm. Até certo ponto, isto faz parte da nossa conversa sobre a performatividade e a pressão para criar uma persona que exprima uma vida escolhida ou imposta. Penso que o gosto tem a ver com o que separa as pessoas. O “cool” é um modo de distanciamento e, na medida em que é uma expressão de gosto, tem tudo a ver com a imagem do eu aos olhos dos outros. Um esforço para incorporar uma sensibilidade que pode marcar a pertença de uma pessoa a um grupo seleto.
Não sei. Estou um pouco confuso com isso. Olha, o gosto tem a ver com regras e convenções. Os artistas, os verdadeiros artistas, desafiam as regras e criam as suas próprias. Ser fixe, parece-me, é viver sem convenções comuns, porque já não se pode ser o que todos os outros estão a fazer.
JAMES MILLER: Tenho estado a refletir sobre algo que a Celeste disse e a tentar pensar como é que, na geração atual, a experimentação de género, esse sentido muito forte de escolher a vida experimental, coexiste na mesma zona síncrona que um novo padrão emergente do que se pode e não se pode dizer, em termos de diversidade, equidade e inclusão.
ROBERT BOYERS: É uma contradição preocupante, já referida pelo Ian e por outros, e que se prende com as questões que todos parecemos ter sobre o gosto como uma disciplina imposta e o gosto como um dom que adoptamos, pelo menos em parte, para nós próprios.
JAMES MILLER: Mas tenho uma outra reflexão: penso que existe um paradoxo, na medida em que, mesmo como pensador solitário, se tivermos um sentido de ancoragem e convicção, isso liberta-nos para irmos a sítios e levantarmos dúvidas que, de outra forma, não conseguiríamos levantar. Para mim, o caso paradigmático é o das Confissões de Agostinho, que explora os mistérios e a multiplicidade do ser humano e os armários da memória. Ele é capaz de ir muito, muito, muito fundo porque, em última análise, está ancorado em Deus e pode sempre regressar a Deus.
E isto, de facto, também é verdade para Sócrates, que pode levantar as dúvidas que levanta porque pertence, de facto, a uma comunidade com um conjunto muito forte de normas comuns. Quando as desrespeita, pode irritar a pessoa famosa com quem está a falar, mas não vai provocar uma guerra civil e o fim da civilização tal como a conhecemos. Experimentação versus padrões, paradigmas e regras... Essa tensão na educação, e também num sentido geracional, atrai-me.
MEMBRO DO PÚBLICO: É sempre difícil saber com quem é seguro partilhar conhecimentos proibidos, sabendo que não vão corromper o seu público ou os seus companheiros. Há segurança em ter bom gosto e sabê-lo, sabendo que não se vai transgredir.
Dito isto, penso que, para as pessoas que levam a sério a arte e a cultura, grande parte do bom gosto consiste em envolver-se com coisas que desafiam o seu sentido de segurança, quer se trate de uma obra de arte desafiante, ou de um prato feito de algo que nunca comeu antes, ou de vestir algo que não é facilmente compreendido por outras pessoas, ou talvez apenas por aqueles que pertencem à sua comunidade. Então, qual é a relação entre segurança e sabor?
TOM HEALY: Tendo crescido muito pobre, acho que parte da resposta é que é um privilégio contornar essa fronteira. Se formos pobres ou se formos mulheres numa família ortodoxa, podemos não ter o privilégio de encontrar ou procurar novos tipos de risco.
ROBERT BOYERS: Fiquei espantado com a forma como a noção de segurança afectou a academia e o discurso sobre a cultura, simplesmente porque me pareceu, no caminho para a idade adulta, que a segurança era a última coisa que eu queria. Não porque viesse de um meio remotamente privilegiado, mas porque queria ser abalado, excitado e exposto a coisas que não me eram familiares. Claro que houve coisas ao longo do caminho com as quais, tal como todos os outros à mesa, me confrontei e que eram desagradáveis, mas não teria querido trocar essa experiência por um regime em que a segurança fosse o princípio ou o ethos que governava. Na sala de aula, uma das coisas que se faz, penso eu, é sugerir que a segurança não é o nosso objetivo.
Se isso significar que os alunos têm de descobrir que são realmente muito mais fortes e poderosos do que pensavam ser, que outras pessoas lhes têm dito que são, isso será um aspeto muito importante do seu desenvolvimento enquanto jovens. Vão descobrir que podem realmente ler Elizabeth Costello, Waiting for the Barbarians e Disgrace. Sei que a segurança se tornou, como sugere, uma noção muito dominante em grande parte da cultura. Muitos estudantes com quem falo à mesa de jantar, etc., querem falar sobre o assunto. Estão interessados no assunto para si próprios e para a cultura do corpo estudantil em que se inserem. É um assunto importante.
MEMBRO DA AUDIÊNCIA N.º 2: Voltando um pouco atrás, o Tom Healy disse que queremos que a arte seja de gosto questionável, certo? Penso que se estivermos a correlacionar o gosto com o género, ou se estivermos a correlacionar o mundo da arte com o género, o género é uma espécie de performance em si mesmo. É um género de arte.
Penso que é interessante que, quando a performance do género começa a ser desafiante, as pessoas ficam preocupadas. As pessoas sentem uma pressão. Não sei bem o que é que isso significa, mas a aplicação de pressão parece-me muitas vezes ser sentida como uma violação do gosto.
TOM HEALY: Ouço falar da pressão sobre os jovens, claro. Mas, no que me diz respeito, não me sinto de todo sob pressão, nem me importo que as pessoas queiram mudar de género. E quanto ao espetáculo, bem, sou totalmente a favor disso. Só acho que há muitas formas de representar a masculinidade e a feminilidade, quer se seja homem ou mulher, sem ter de dar o passo absoluto, incluindo operações, etc. Mais uma vez, não descarto o facto de algumas pessoas sentirem uma necessidade absoluta de o fazer, mas há muitas formas de desempenhar esses papéis sem ter de ser absoluto ao declarar: “Sou um homem ou uma mulher”.
CELESTE MARCUS: O mundo da fluidez de género, por definição, não nos diz que temos de escolher. É aliado das pessoas trans, não porque façam parte do mesmo movimento ou peçam o mesmo tipo de aceitação, mas porque estão sujeitas à mesma marginalização. Penso que há ideias erradas que informam a conversa sobre fluidez e liberdade de género. Os jovens estão a dizer que estes dois tipos de pessoas merecem respeito, liberdade e segurança.
Ninguém está a dizer a ninguém que tem de fazer uma cirurgia de mudança de sexo. A única coisa que as pessoas estão a dizer a essa comunidade é que, se quiserem, devem poder fazê-lo. É a mesma comunidade que diz: “Se eu quiser ter um género fluido, então devo poder fazê-lo”. A razão pela qual são aliados é porque deixam muitas das mesmas pessoas desconfortáveis, não porque estejam a pedir a mesma coisa.
IAN BURUMA: Mas isto não tem nada a ver com gostos. Se alguém quiser mudar de género e lhe dissermos: “Isso é porque é do teu gosto tornares-te uma mulher” ou “um homem”, essa pessoa fica muito ofendida. É esse o objetivo, que não é apenas uma questão de gosto. Enquanto que o travestismo é uma questão de gosto. Sou a favor de mais fluidez, mas sou ligeiramente... Não me sinto pressionado, mas sinto que algumas pessoas são pressionadas, devido ao clima atual, a fazer uma escolha absoluta, o que é o oposto da fluidez.
MEMBRO DA AUDIÊNCIA N.º 3: Sr. Healy, estava a falar sobre o que aconteceu com os jovens rapazes na Igreja Católica e como se sentiu enojado ao saber da sua experiência. Diria que o nojo é essencial como resposta a estas coisas?
TOM HEALY: As pessoas têm de fazer as suas próprias escolhas sobre a arte que querem experimentar e até sobre a história que querem conhecer. Há tantos graus de experiência humana que não quero que ninguém nos diga de que arte pode ser feita ou que emoções é suposto sentirmos.
ROCHELLE GURSTEIN: Fico contente por nos voltarmos novamente para o gosto. Toda a história da vanguarda tem a ver com subversões do gosto. Isto acontece desde o século XIX, com as pessoas a rejeitarem o status quo e a fazerem arte nova. Nos anos 60, muitos artistas queixavam-se de que “já não se pode chocar a burguesia”. Eles queriam ser chocados. Tinha-se tornado um gosto, e o gosto não desapareceu exatamente. Nem mesmo agora. O imperativo é, portanto, continuar a insistir. Qual é o limite? As pessoas habituam-se às coisas. O bom gosto não ajuda quando o desejo é ir para além de um limite.
TOM HEALY: A resposta é: se pode ser mercantilizado, é absorvido. Vivemos numa cultura de consumo, por isso, sim, tudo será absorvido.
IAN BURUMA: As fotografias para as calças de ganga ou roupa interior Calvin Klein são um exemplo perfeito de como a cultura gay foi absorvida pela corrente dominante capitalista. E, no entanto, ainda não defendemos verdadeiramente a vulgaridade e o mau gosto. Porque não creio que nenhuma arte que valha o seu nome tenha passado sem algum mau gosto e vulgaridade. Já mencionámos o espírito carnavalesco, tudo, desde as peças de Shakespeare às óperas de Mozart, etc. Todos eles se inspiraram nas culturas mais vulgares do seu tempo. Sem isso, o trabalho seria extremamente aborrecido e académico. É absolutamente essencial ser pelo menos um pouco vulgar.
ROBERT BOYERS: É possível incorporar uma apetência pela vulgaridade na sua prática pedagógica?
IAN BURUMA: Estou a tentar.
BARBARA BLACK: Eu também.
ROBERT BOYERS: Estou a pensar no meu amigo psicanalista Adam Phillips, que escreve que gostaria que o vulgar “fosse um termo artístico útil e não um insulto simples e direto”.
TOM HEALY: Acho que todos podemos concordar com isso.
ROBERT BOYERS: O Adam também escreve que “o vulgar é o bode expiatório do bom gosto”.
IAN BURUMA: Isso é ainda melhor, não é?
ROBERT BOYERS: E terminemos com mais uma citação provocadora de Phillips e pensemos, pelo menos até à próxima conferência Salmagundi, no que tem a ver com o gosto: “Os vulgares recusam-se a perder”.
ROBERT BOYERS: E terminemos com mais uma citação provocadora de Phillips e pensemos, pelo menos até à próxima conferência Salmagundi, no que tem a ver com o gosto: “Os vulgares recusam-se a perder”.
FIM
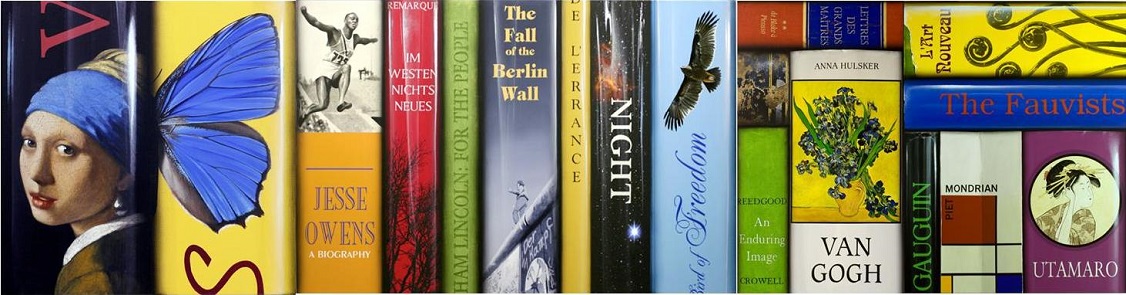
No comments:
Post a Comment